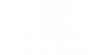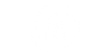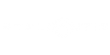A desinformação corroendo a credibilidade da mídia


A mídia ainda goza de prestígio. Pelo menos é o que aponta pesquisa Edelman Trust Barometer – 2016 em 28 países. No Brasil, a confiança teve uma ligeira melhora e está em 54%, com destaque para a chamada mídia tradicional, acreditada por 58% dos entrevistados ante os 44% das redes sociais. Mas a credibilidade, sobretudo da imprensa, que a tem como seu maior patrimônio, parece estar sob ameaça de um novo produto que vem redesenhando o mundo: a desinformação.
Capaz de assumir as mais variadas formas, como boatos, mentiras, manipulação, simulação e notícia mal-apurada, a desinformação têm nos órgãos de comunicação e nas plataformas sociais eficientes portadores para se difundir e se multiplicar com repercussões avassaladoras. Os arrependidos do Brexit que o digam. Boa parte dos ingleses, que votaram, em julho, pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia, foi seduzida por mentiras que se formaram e se firmaram – como diz Emily Bell, do Tow Center for Digital Journalism, de Columbia -, no ambiente fechado do Facebook. A empresa de Mark Zuckerberg é acusada de ter manipulado os algoritmos de maneira a destacar as informações compartilhadas por amigos e apartar o jornalismo profissional, numa espécie de vingança ao protagonismo da imprensa, a qual sempre se atribuiu o poder de jogar no esquecimento tudo de relevante que não esteja no noticiário. O papel se inverteu. A mídia social ganhou proeminência como fonte de informação, reconhece a pesquisadora indiana Tanushree Mitra, da Escola de Computação Interativa, do Instituto de Tecnologia da Geórgia, em Atlanta.
Para os que usaram exclusivamente a mídia social para assumir um lado no plebiscito, é como se nunca tivessem existido as inúmeras reportagens e análises de especialistas sobre as irreversíveis implicações econômicas para os ingleses. E não são poucos. Levantada pela Reuters Institute, amostra em 26 países, Brasil inclusive, revela que 51% dos entrevistados afirmam usar as redes sociais como fonte de informação.
Ao cair na falsa promessa de que os £ 350 milhões semanais em repasses para a União Europeia poderiam ser aplicados na saúde pública e na conversa de que seria possível conter um sem-número de imigrantes com a saída, hoje os britânicos já começam a sentir os efeitos do plebiscito: retração do mercado tanto de trabalho como imobiliário, turbulências econômicas e desvalorização acentuada da libra, reforçando os temores da desaceleração da atividade econômica ou mesmo de uma nova recessão. Para os mais alarmistas, a gastronomia do país pode retornar à idade do insosso “fish and chips”, por conta do aumento da taxação dos ingredientes provenientes do continente europeu.
Ancorados na ausência de lei que responsabilize o propagador de mentiras, influenciadores de má-fé têm nas redes sociais o mais poderoso meio para confundir e mobilizar as pessoas em torno de falsidades. O ambiente se torna mais fértil em momentos de crise. Fabio Santos, gerente de Marketing do Scup, empresa especializada em monitoração de redes sociais, confirma que “quando o momento é crítico, a chance de boatos pipocarem e se tornarem algo real é multiplicada, ainda mais quando compartilhado em redes com alto potencial de engajamento”.
As estatísticas comprovam a tese. Estudo de 2015, coordenado por Tanushree Mitra, aponta que quase um quarto de tudo o que é publicado no Twitter – uma das poucas redes sociais que permitem pesquisa sem restrição de seu conteúdo – é falso. No Brasil, o fenômeno não é de diferente. Segundo o Monitor do Debate Político no Meio Digital, ligado à USP, três das cinco matérias mais compartilhadas (dias antes da votação do impeachment na Câmara) eram boatos.
Os conteúdos “fakes” viralizam, porque o brasileiro não tem o hábito da leitura de jornais e revistas, não costuma checar as fontes e porque profissionalizaram a boataria em núcleos raivosos. Analistas de mídias sociais da empresa Num.br explicam que para gerar um conteúdo relevante dentro das redes exige um exército de pelo menos 30 mil robôs que replicam os conteúdos entre eles nos grupos, nas páginas e nos comentários de notícias.
Páginas como The News Brazil, Folha Política e Pensa Brasil, que se autodenominam jornais, já envenenaram na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, o doleiro Alberto Youssef, e mais recentemente deram um pito internacional no ex-presidente Lula com a falsa resposta das Nações Unidas à sua petição ao Comitê de Direitos Humanos da ONU contra o juiz Sérgio Moro: “Você já devia estar preso, na cadeia”. Dos quase 830 mil curtidores da página Pensa Brasil, 23 são meus amigos.
Outros aspectos desse fenômeno têm origem psicológica. Por deficiência cognitiva ou ignorância, muita gente não diferencia conteúdos de jornais fajutos, como Folha Política, de jornal profissional, como a “Folha de S. Paulo”. É como crianças bem pequenas que, segundo o Instituto Alana, não conseguem distinguir, no caso da televisão, o que é programação do que é anúncio. Para eles, o desenho de uma boneca ou de um super-herói é a mesma coisa que a publicidade dos brinquedos.
Mentiras que viram verdade se fortalecem também por conta da dissonância cognitiva – comportamento humano estudado pelo psicológico Leon Festinger -, que leva as pessoas, mesmo diante de evidências informacionais, a terem dificuldade em enfrentar situações onde suas crenças e práticas são confrontadas. O conforto psicológico é recuperado com o apoio de conteúdos que equilibram essa situação, obtidas não apenas na internet, como acredita o colunista de “O Globo”, Pedro Dória, mas também no noticiário. Muitos americanos, que deram apoio à invasão dos Estados Unidos no Iraque, ainda acreditam que Saddam Hussein escondia um enorme arsenal de armas de destruição em massa, hipótese forjada pela Central de Inteligência CIA e chancelada por jornais da respeitabilidade do “The New York Times”.
Nesse terreno instável, onde os boatos se propagam mais rápido que rastilho pólvora e há suspeitas de que os resultados de algoritmos sejam alterados, aliar-se às redes sociais pode ser uma armadilha para a imprensa. Mas o que percebemos é que as propriedades instáveis e pouco confiáveis das plataformas sociais pesaram menos do que o dado de que parte importante da audiência da mídia está ali. Hoje, 30% das pessoas nos EUA leem notícias apenas pelo Facebook. Não por acaso, os grandes jornais do mundo já anunciaram que vão publicar sua matérias diretamente na rede social mais popular do planeta, o que comprova, na opinião de Ronaldo Lemos, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, que o Facebook está se convertendo também em “infraestrutura” para a disseminação de conteúdos.
Nessa miscigenação entre canais com propostas diferentes, o usuário ficará ainda mais vulnerável a comprar gato por lebre, até porque como uma pororoca, a desinformação, comoditizada nas redes sociais, invadiu o mar da imprensa no ambiente que é dela. Por pressa em publicar antes da concorrência ou pela busca frenética por histórias que impactem a opinião pública ou mexam com o mercado, muitas inverdades são disseminadas, como no caso da revista “Veja” por ter noticiado um extrato bancário falso do senador Romário na Suíça.
Muitos boatos romperam o escaninho das redações. O Jornal Nacional, a Folha e o Estado publicaram em setembro de 2015 notícia errada de que o Supremo Tribunal Federal abrira inquérito contra o então ministro Aloisio Mercadante e o senador Aloysio Nunes. A informação de que a Fundação Bill & Melinda Gates processaria a Petrobras – desmentida pelo próprio Gates, desculpando-se com o governo brasileiro pelo constrangimento – foi distribuída no Brasil por agências de notícias e publicada em vários veículos de seriedade acima de qualquer suspeita como as redes CNN e BBC.
Mais recentemente, os jornais brasileiros deram destaque ao “vice-cônsul russo, lutador de jiu-jitsu” que numa luta corporal matou o bandido que tentava assaltá-lo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na carreira para sair antes do concorrente, os repórteres, provavelmente acelerados por seus editores, conformaram-se com a versão da polícia e não tiveram a calma de apurar que o personagem era na verdade um homem de posse de um documento falso do consulado russo. O jornal “O Globo” chegou a publicar a notícia errada no impresso. Essa falta de cuidado da mídia profissional poderia ter provocado algum ruído diplomático.
Resta aos veículos virem a público se desculpar. Eurípedes Alcântara, diretor de Redação da “Veja”, em resposta à ombudsman da Folha, Vera Guimarães Martins, sobre o caso Romário, foi didático: “O jornalismo funciona como uma montadora de veículos, que dependem de fornecedores. Nós dependemos das fontes. Quando um fornecedor, por alguma razão, entrega um lote de peças defeituosas, a montadora faz imediatamente um ‘recall’. O reconhecimento rápido, público e sem rodeios do erro equivale no jornalismo ao recall das montadoras. O leitor confia em nós e não nas fontes.” O problema é a frequência com que isso ocorre. “Ao se pautar pelo relógio e pela exclusividade, a imprensa abre mão da característica que a diferencia do resto: a capacidade de checar”, adverte Eugênio Meloni, responsável pela análise de conteúdo da Rapport.
Esses episódios, que colocam na berlinda a reputação da imprensa, reforçam a afirmação do americano John Bohannon, doutor em biologia molecular pela Universidade de Oxford, de que é fácil enganar jornalistas. Ele, que também é jornalista e escreve para revista “Wired”, emplacou uma pesquisa falsa em 157 dos 304 jornais a qual foi submetida. O segredo da mutreta foi fazer um comunicado às redações com tudo que um repórter, em busca de uma história fácil, quer: frases, contexto e resultados espantosos. Para ele, a culpa pela falta de critérios elevados no jornalismo é dos editores, que deveriam impor a velha fórmula de verificar informações e conversar com várias fontes. O jornalista não pode reproduzir o mesmo hábito do leitor brasileiro e não checar a legitimidade e a credibilidade da fonte.
O magnata e candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, Donald Trump, não só já sabia como se aproveitou muito desse flanco aberto nos veículos. Em seu livro “The Art of the Deal”, publicado em 1987, ele escreve: “Algo que aprendi sobre a imprensa é que está sempre faminta por uma boa história e quanto mais sensacionalista melhor… Se você for um pouco diferente ou um pouco ultrajante, ou fizer coisas ousadas ou controversas, a imprensa vai escrever sobre você”. Quem acompanha a corrida pela Casa Branca já notou que ele coloca essa teoria em prática da maneira ostensiva como um fanfarrão. Ele mente, porque “mentir é uma segunda natureza para ele”, definiu Tony Schwartz, ghost writer da autobiografia “The Art of the Deal”, em artigo publicado na “New Yorker”.
Glenn Kessler, checador de fatos do “Washington Post”, disse que Trump vence de longe outros políticos o troféu “Pinóquio”. Enquanto o PolitiFac – site que confere as declarações de congressistas, membros do governo, lobistas e grupos de interesse -, considerou as declarações de Hillary falsas 28% das vezes, classificou 70% das falas de Trump como mentiras.
Já o site Politico analisou 4,6 horas de discursos e declarações de Trump em coletivas de imprensa. Resultado: mais de sessenta afirmações foram identificadas como descaracterização, exageros ou simplesmente falso, uma fala distorcida a cada cinco minutos, em média. Ele fabrica falsidades aos montes, porque hipnotiza a mídia.
Nicholas Kristof, no “The New York Times”, fez uma contrição no artigo “Minha vergonha compartilhada: a mídia ajudou a fazer Trump”, sustentado pela constatação de Ann Curry, famosa ex-âncora do “Today”, segundo quem “a mídia precisou de Trump como um viciado em crack precisa de mais uma tragada”. A colunista Lúcia Guimarães, do jornal “O Estado de S. Paulo”, traduz: “Trump encontra espaço fácil numa mídia insegura e sob assalto de pressões financeiras”.
O que está em jogo é a confiança que os leitores depositam na instituição imprensa. Não apenas as empresas de notícia precisam fazer uma curadoria constante de seu trabalho, mas também as organizações que querem promover seus pontos de vista, assim como os anunciantes.
Cabe a nós, comunicadores organizacionais, o papel de fio condutor e filtro de narrativas qualificadas e evitar a tentação de gerar conteúdo interessante, mas desprovido de verdade. Na Rapport, orientamos nossos assessorados a não divulgar qualquer inverdade nem mesmo a produzir balões de ensaio. Aplicamos os mesmos ingredientes usados na receita “fake” do biólogo John Bohannon às nossas narrativas: frases, contexto e resultados espantosos. Com uma diferença, sempre acrescentamos o tempero da veracidade.
Não interessa a ninguém uma imprensa sob suspeição. A longo prazo, a desinformação reiterada, que já é uma prática nas redes sociais, pode sitiar também a credibilidade dos órgãos de comunicação. Não restará ao leitor nenhuma fonte de informação confiável. Esse cenário seria bom para os anunciantes e para as organizações que fomentam os veículos de conteúdo? O poderoso Martin Sorrell, presidente do grupo de comunicação WPP responde. Ele afirmou no Festival de Cannes de 2015 que “é preciso dar crédito ao discernimento dos consumidores. Se você engana o cliente de alguma forma, será penalizado e terá problemas no longo prazo.” Se isso vale para a publicidade, imagine para a mídia. A verdade é que não há como prever quais seriam as implicações para os negócios de uma imprensa desacreditada, mas as repercussões sociais seriam inevitáveis.
COMENTÁRIOS:
Destaques
- Em entrevista a CNN, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil fala sobre comunicação e sustentabilidade
- EMIS é nova associada da Aberje
- Lab de Comunicação para a Sustentabilidade discute oportunidades e desafios para ações sociais
- Seminário da USP debate opinião, política e democracia na atualidade
- Aberje recebe lançamento do livro “Diálogos com o futuro” da Rede Educare, com patrocínio da Bayer
ARTIGOS E COLUNAS
Paulo Nassar Fala na abertura do Seminário Opinião Pública, Política e DemocraciaRegina Macedo Narrativas femininas: amplitude e diversidade na comunicaçãoPatricia Santana de Oliveira Qual retorno do investimento em PR?Marcos Santos Esporte como Plataforma de MarcaCarlos Parente Na vida e no mundo corporativo, não há texto sem contexto